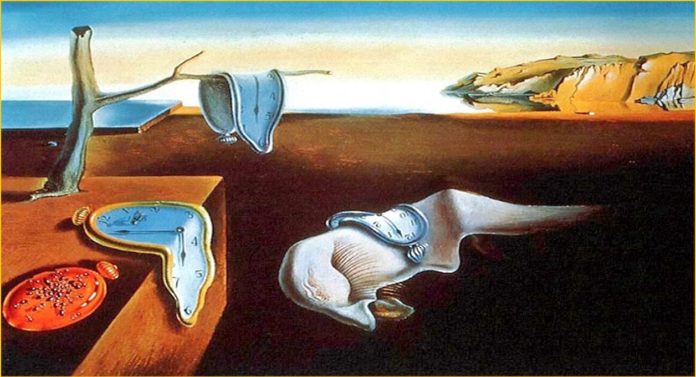Nos idos dos festivais da canção do Rio de Janeiro e de São Paulo em que despontaram grandes nomes ainda brilhantes na música popular nasceu o grupo MAU, Movimento Artístico Universitário. Nele figuravam compositores e intérpretes não necessariamente cursando faculdade, mas que viviam no ambiente ou tinham participado de certames semelhantes comuns no meio estudantil.
Era o final dos anos 1960, época de manifestações estudantis e intelectuais, uma inspiração mundial: nos Estados Unidos pelo fim da convocação de jovens para a guerra do Vietnã, e por liberdade na França, na Alemanha e na antiga Checoslováquia ocupada pelos soldados russos em nome da União Soviética, reprimindo o movimento.
No Brasil, mais especificamente na MPB, um dos expoentes da produção de música de protesto foi um dos mais mal humorados daquela geração, representante de outra vertente diferente de Geraldo Vandré, cujos versos provocavam no geral o impacto de um soco no estômago.
Era Luiz Gonzaga Júnior, que desceu o morro de São Carlos, no Estácio e tornou-se conhecido no meio dos festivais como “cantor rancor”. Era raiva bruta, indomável, desafiadora. Não tolerava entrevistas banais que os artistas concediam nos festivais, tinha ganas de gritar a revolta contra a ditadura, o sistema, a miséria e a ignorância.
Eu o conheci numa tradicional pelada de virada do ano na rua Jaceguai, bairro do Maracanã, onde era vizinho do psiquiatra Aluizio Porto Carrero cuja filha Angela viria a se casar com ele. O tempo, o sucesso e a grana forjaram nova têmpera e Gonzaguinha se tornou autor e intérprete de canções de singeleza ímpar até hoje em execução.
Fora esta eventual troca de passes na rua Jaceguai, fui com ele à casa de seu pai Luiz Gonzaga, na Ilha do Governador, numa tarde ensolarada, já como repórter de jornal. Mas na verdade, utilizo a história dele para justificar minha coluna da semana. É que faz uns dias alguém me advertiu sobre o risco de me tornar um colunista rancor, o que seria triste.
Acho que a situação brasileira, e a mundial também, não tem contribuído para o doce exercício da crônica, sobretudo a desinteressada ou mundana, como se dizia. Hoje, até o Veríssimo anda amargo e os demais se dedicam a queixas contra os incessantes ataques à cultura e à civilização. Como se sabe, a crônica é uma das manifestações culturais de qualquer povo.
Se vivo fosse, Rubem Braga, o Sabiá da Crônica, empregaria todo o talento para não ceder ao impulso de vociferar contra o estado de coisas, ou “isto que está aí”, como preferem se referir eleitores da direita num gesto amplo de braço ao cenário que ajudaram a construir e que os vitima hoje ou vitimará amanhã, no mais tardar – não perdem por esperar.
Outro dia, em passeio por Ipanema, bairro preferido por nove entre dez intelectuais do Rio de Janeiro, fui tomado por lembranças de um passado nem tão remoto assim, mas saudoso como tudo o que data do século passado.
Observando as moças a caminho da praia em flagrante desafio ao céu nublado e aos 23 graus no termômetro da esquina, pensei com meus botões “me estoy poniendo viejo”, como dizia Adoniran Barbosa com seu sorriso maroto de paulistano boa praça.
Oscar Niemeyer, habitante ilustre do bairro, disse certa vez, do alto dos seus cem anos de vida, que ao ver uma daquelas mocinhas douradas durante seu passeio diário no calçadão, metida num biquíni menor que cérebro de bolsomínio, sabia direitinho o que estava vendo e como agir…o diabo era o corpo, que não obedecia mais.
Oscar era bem humorado, sarcástico. Odiado pelo regime militar, foi certa vez detido para interrogatório pelo crime de ser comunista reconhecido mundialmente como arquiteto. Nada podiam contra ele, no entanto. O imbecil lhe perguntou como, sendo comunista, ganhava tanto dinheiro. A resposta foi fulminante: “Dando a bunda”.
Resgatado do ostracismo nacional por José Aparecido de Oliveira, governador do Distrito Federal na redemocratização do país, passou a frequentar Brasília a todo instante e opinava sobre projetos e planos para o futuro de sua criação.
Numa dessas vezes, o repórter quis saber se tinha feito amigos na cidade e ele respondeu: “Estou com 85 anos, não tenho mais idade para fazer amigos”. Faltou dizer que os que tinha estavam deixando este mundo, mas isto não sei se seria coisa do Niemeyer.
Dizem que durante o governo Juscelino Kubitschek Oscar tinha mania de arrebanhar alguns amigos de bar para visitar a obra faraônica da nova capital. Iam e voltavam de avião, mas o cronista Paulo Mendes Campos tinha pavor de voar, não acreditava no “mais pesado que o ar”.
“Só topo de formos de carro”, dizia, e não adiantava contestarem. Mesmo assim os amigos excursionistas ao cerrado tentavam demovê-lo com mil argumentos, em vão. Até que alguém lembrou que a estrada era cheia de buracos. “É, mas de avião o buraco é um só”, falou PMC, pondo uma pedra sobre o assunto.
Mas não apenas um avião pode ser vítima do buraco único, por vezes caímos todos nós nele. Aliás, não podemos ver um buraco no caminho que nos metemos logo e lá de dentro reclamamos da má sorte. Como no caso do especial de fim de ano do Porta dos Fundos, em que Jesus é gay e Maria aparentemente fuma um baseado.
Sete pedidos tentam na justiça censurar o vídeo da Netflix e têm origem em três estados: São Paulo (5), Mato Grosso (1) e Rio de Janeiro (1). Ação proposta na Assembleia Legislativa paulista defende ainda indenização a cada cristão ofendido pela obra de no mínimo mil reais. Estimam os advogados que a Netflix poderá desembolsar até cinco bilhões de reais se os fervorosos cristãos se habilitarem e ganharem na justiça.
O argumento central da petição judicial é que o conteúdo do programa está “deturpando ofensivamente a imagem de Deus, de Jesus Cristo, da sua sagrada Mãe Maria e de todos os demais protagonistas bíblicos envolvidos”. Parece coisa de muçulmano fundamentalista contra charge de Maomé no jornal, mas é aqui mesmo, no país que já foi o mais católico do planeta onde papas costumam ser recepcionados como legítimos representantes de Deus.
Não se escandalize, porém. O filme “Je vous salue, Marie”, do francês Jean-Luc Godard, foi proibido no Brasil “democrático” em 1985, pelo presidente José Sarney, porque narrava a história de Maria, filha do dono de posto de gasolina que engravidava, mesmo sendo virgem, e seu namorado taxista José assumia o menino Jesus.
Foi uma proibição absurda provocada pela esposa do presidente da república, que, como toda a população, nunca assistiu ao filme. O anedotário popular o chamava de “Je vous salue, Marli” (a Michele do Sarney, guardadas as devidas proporções, é claro). E foi só, como hoje se faz piada sobre as asneiras dos poderosos. No fundo, o Brasil gosta de se meter em buracos.
O problema, no entanto, não é o buraco em que o avião cai, como temia Paulo Mendes Campos: é que ele leva invariavelmente as pessoas erradas como passageiros, deixando em terra e em segurança os beócios e os energúmenos.
Feliz Natal!